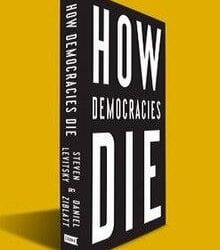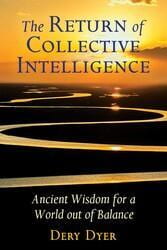Indigenous Peoples and the Theater
A Possibility of Reinventing Life
It was 2001 and I still can feel to this day the strength that propelled me towards Kamayura village. There live an indigenous people speaking the Kamayura language, which belongs to the Tupi linguistic branch. Their area is part of the Xingu Indigenous Park, an indigenous and environmental land in central-western Brazil in the state of Mato Grosso. I remember the trip I took alone, I was 21, leaving my hometown, Belo Horizonte, in the state of Minas Gerais, to meet chief – cacique – Kotok Kamayura in the small town of Canarana, also in Mato Grosso. From there we went by plane to Xingu watching the shifts in the landscape: the view of the city getting small, the entrance of the immense delimited fields of plantations and livestock, the limits of the indigenous reserve and the vastness of its forest, river and savannah. I have often observed the village from above, as the plane begins to descend until it touches its wheels on the improvised landing strip. It was January 5 and the memory of my body standing in front of the Ipavu lagoon—looking at the clearness of that water totally bordered by Buriti palm and extensive area of forest – recalls that very decisive moment. Overflowing with the experience of being in that territory, I remember saying to myself: “I want to live here.”
Twenty years later, I have more clarity about the passion that led me to live five years with the Kamayura people, with whom I still maintain friendly relationships. That was a moment when the first experiences as an actress brought a shift in the perception of the body and the reality that I lived. The artistic exercise mixed with the desire to get to know the original people raised the question of what it would be like to study the indigenous body for the theater. With this initial desire, I was integrated into the activities of my new family, in the work of the farm, the ritual, listening to the narratives, as well as in the educational construction of the Mawaiaka School, in the publication of the book Kamayura History and participating in several militant actions through the Mawutsinin Indigenous Association which is the legal representative of the community. Of course, my stay in the village was only possible because the Kamayura accepted this partnership, which allowed the construction of an affinity in learning that any long-term relationship provides.
When I left the village, I carried with me this incomparable experience, which even today reverberates in my body and so I end up creating other ways to make it uninterrupted. This is how I have been carrying out various actions in the artistic field; I have become a partner and friend of other indigenous people and leaders. For me, living in the village was most important, but listening, dialoguing and studying for a long time helped me to understand the social context that a community like Kamayura must face. It has profoundly changed my own view about the body, art, history, politics, ethics, otherness, production of knowledge and ways of existing.

Kamayura female tattoo marked on the body of actress Andreia Duarte. Scanner made for the São Paulo International Theater Festival Catalogue – MITsp 2019. / Tatuagem feminina Kamayura marcada no corpo da atriz Andreia Duarte. Scanner feito para o Catálogo da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo – MITsp 2019.
In the field of theater arts, I never stopped pursuing the idea of how to relate the indigenous body and the theater. However, certain notions were crucial for the development of practical and theoretical research. The first is the science of a suppression that occurs in the social devaluation and invisibility of the original people in the formation of Brazilian society – a process that tries to distort the violence, injustice and genocide imposed on indigenous inhabitants from the beginning of colonization to the present day. Another point to highlight is the understanding that that body-knowledge is linked in a conjuncture of senses that distinguishes it from any other body. The Kamayura, as an original people, live and revive their own ancestry in their own way. That is a body memory as far away as the depths of the sea and continuous as the infinity of the universe, since it is updated in the demands of the now. As Professor Leda Martins (Performances of spiral time, 2002) explains: in the “spirals of time everything goes and everything comes back.”
Finally, I needed to understand what kind of theater language I could use to carry out the research. I spent years asking about these questions and trying to decipher, initially, how to create performance procedures about indigenous life, especially about the knowledge of the Kamayura body in its ways of doing and existing. I also asked what it would be better to emphasize in a show in view of the social and cultural complexity surrounding indigenous existence.
Practicing the theatrical exercise that I discovered myself inserted in research about staging in which the expressive possibilities of the body constituted the principle of creation. So, I sought in the rhythmic quality, speed and intention of action, a systematization of body movement. I did this practice as an actress exercise separate from a staging project and also within the performance “Ode Marítima,” inspired by Fernando Pessoa’s poetry and directed by Juliana Pautilla. The scene in which I acted brought a dramaturgy about the violence of colonization in the (un)encounter between the European and the indigenous.
In this period it was valuable to understand that mimetic representation, in a simple understanding of the imitation of the movement, risked an emptying over the cultural gestuality independent of the content. At the same time, I realized that the affective experience of a person involved with the indigenous context, as was my case, could singularize the expressive form filling each gesture of meaning in a theatrical scene.

Andreia Duarte in the performance Gavião de Duas Cabeças (Two-Headed Hawk). Presentation at Sesc Pompéia. São Paulo, 2018. Photo by Carola Monteiro / Andreia Duarte no espetáculo Gavião de Duas Cabeças. Apresentação no Sesc Pompéia. São Paulo, 2018. Foto por Carola Monteiro
Following the investigation, I performed the solo Gavião de Duas Cabeças (Two-headed hawk), continuing my partnership with Juliana Pautilla as director. We made the choice of directing a dramaturgy (and I am not talking only about the text, but the sense emanating from the whole play) based on autobiographical reference, seeking in personal memory a material embedded in the skin.
In this stage realization we chose to emphasize the politics of the body-I-white in the village and outside, questioning the prejudices generated by this choice. We also dealt with the issues that emerge in the encounter between otherness, questioning one’s own actions as a colonialist. Furthermore, we chose to show the different meanings involved in the land conflict in Brazil, considering that for the indigenous peoples territoriality is a sacred space that links the collective to their identity; a completely different understanding in relation to the individualist and capitalist usufruct of the land. The dispute between these notions is central to indigenous life in Brazil and reveals different exploratory mechanisms used on the native people.
All the speeches used in the show are real and sought to validate the discussion in a militancy: the speech itself, the indigenous orality and the argument of representatives of the agricultural group of the National Congress. On several occasions, exchanges took place with representatives of different peoples: the cacique Kotok Kamayura helped to translate the indigenous speech of the dramaturgy into the Kamayura language and we made presentations with the presence in the audience of different ethnic groups. A highlight was when we presented to more than 4,000 indigenous people on the small stage of the Acampamento Terra Livre 2017 (Free Land Campsite 2017), the largest gathering of the indigenous movement in Brazil, that took place on the lawn in front of the National Congress in the Federal capital, Brasília).
We also had guests from Kamayura in 2018 in the city of São Paulo, as well as key leaders of indigenous militancy and of the preservation of the national forest, such as Ailton Krenak and Davi Kopenawa. Krenak is considered one of Brazil’s most important indigenous intellectuals and an emblematic activist in the inclusion of Indigenous Rights in the 1988 National Constitution. And Davi Kopenawa, winner of the Right Livelihood Award 2019, is one of those responsible for the demarcation of the Yanomami Indigenous Land in the states of Amazonas and of Roraima.
I am aware of a continuous discussion about how some pedagogical-artistic-white-colonial approaches appropriate aspects of other cultures to insert in their projects. I think that an ethical practice could be that of trying to understand that different lives carry logics that are not only dual but deeply singular. What kind of involvement and exchange is established in each situation?
The task of conducting research that crosses the intersection of the indigenous issue and the theater has been for me a rare opportunity to exercise an activism that recognizes the original people in the essentiality of their existence. It is also a way of reflecting deeply on my practice, which is my own life. Currently, I am interested in asking how can we reinvent the possibilities of existing from a broad, artistic, social, cultural, transcultural, human, non-human, natural, anti-colonial experience and alongside the indigenous people? On my body, I think that the Kamayura tattoo marked on my arm has become like the hybrid image of the final scene of the Two-headed Hawk show: the shallow body of a white-bird-indigenous-woman.

Andreia Duarte in the final scene of the Gavião de Duas Cabeças (Two-Headed Hawk). Presentation at SP Theater School. São Paulo, 2018. Photo by Camila Vech / Andreia Duarte na cena final do espetáculo Gavião de Duas Cabeças. Apresentação na Sp Escola de Teatro. São Paulo, 2017. Foto por Camila Vech.
Moderating a lecture by Yanomami shaman, Davi Kopenawa, at the SP Theater School in São Paulo, I asked how he perceived the non-indigenous performing a show about the indigenous world. Kopenawa gave the following answer “I think that when you who are not indigenous talk about the native issue, you make people look at me. Look at who I am. We are not different, we are the same person, white, black, indigenous, all the same. The truth is, we’re fighting for the same thing. For our life, for us. That’s the most important.” The dialogue with Kopenawa brought to the research a deviation that began to question in what place we, indigenous and non-indigenous people, can be together? Or rather, what would be a common place?
Opening this window in an alliance with the leader Ailton Krenak, in 2018, we made the creation and curatorship of TePI – Theater and the indigenous people, as an artistic show that seeks the expansion of theatrical forms in an appreciation of the body by aesthetic and political production. But it is also a space that recognizes the protagonism of indigenous artists, while suggesting meetings and shows that unite indigenous and non-indigenous. Later that year, I invited Krenak and Kopenawa to create by my side and in co-authorship a scenic experiment called “The Silence of the World,” at the Porto Alegre in Scene Festival in Rio Grande do Sul in 2019. Unfortunately, Kopenawa could not attend because he had to undergo a long period of mourning and seclusion after his father-in-law passed away. So, Krenak and I embarked on a creative immersion through which we built a theatrical result in the format of a lecture-performance that we presented at São Pedro Theater to an audience of 700 people.
In relation to the dramaturgy, we work on the time of myth as a space that opens the possibility of creation. The discussion passed on the mythological universe that is often understood only as the cultural imaginary of the original people and not as memory and history. But, as Krenak states in the interview The power of the collective subject in 2018, it does not matter whether the history called mythology is real or not; what is interesting is to realize that time is a place where there is no anguish of certainty. And if there is no guarantee, what happens is opportunity. That is, it is a way of being active, illuminating new gaps in a continuous process of reinventing life in different directions. For Krenak, that would be a window to cross and go out into the world, to experience and to realize.
The dramatic action alongside Ailton Krenak reinforced the need to coin spaces in which we can speak and experience together. In the same way it reaffirmed the importance of art as an exercise of creation, where it does not matter whether we are dealing with reality or fiction. As in the time of uncertainty that Krenak elucidates, what I am interested in is finding in artistic practice a transmutation over notions of life, reworking meaning, images and time. Especially in the case of the theater that has the body as a privileged place of experimentation, I see a door opening in a crossing of itself, in the construction of a collective event and in a process of transformation.
Of course, indigenous existence and the theater occupy different spaces. But what all this research has shown me is that at this crossroads is a possibility of reinventing life. Even because in the encounter between the theater and the original people there is an appreciation of the body as a space of learning through experience, in an activation of forces that interact subjectively and externally in the now. In addition, by paying attention to the orality of original leaders, by observing the fruition of contemporary indigenous art and a theatrical performance that idealizes new ways of existing, I see a conjuncture questioning the colonial capitalist supremacy. What makes me reflect that another issue that unites them is the desire to free us from the kidnapping done by the epistemology of looting (as Krenak calls colonization), which insists on a dominant essentialist model and an era called the anthropocentric paradigm in which man is the center of everything.
I learned from the indigenous body and the body in the theater to believe in places where everything can come to be. An anti-colonial practice could be that of knowing that the past, present and future are totally connected and therefore can help us transmute and propel our existence to the place we want.
The original peoples’ concept of expanded time is one that connects them with all that is alive (whether human or non-human) and inserts them into a collective dimension where they dance and sing for rhythmic reciprocity with the planet. As an artist, I keep imagining non-indigenous bodies aligned with indigenous ancestral knowledge to reestablish a connection: doing it together because we choose to do it, entering the rhythm of the earth with their own rituals and resonating their creations in the world like the sound in the air.

Pajé-Onça, by artist Denilson Baniwa. Hacking the 33rd Bienal de Artes de São Paulo, 2018, performance, HD video, 16:9, color, sound, 15`. The figure of Pajé-Onça takes information to the village, performs hunts in the cities, such as São Paulo, questions the absence of indigenous art in exhibitions and artistic meetings. As, in the exercise of the Yawarete (onça Baniwa) shows that all territory in the world is indigenous land. / Andreia Duarte na cena final do espetáculo Gavião de Duas Cabeças. Apresentação na Sp Escola de Teatro. São Paulo, 2017. Foto por Camila Vech
This article was translated from the Portuguese by João Maria Kaisen.
Os Povos Indígenas e o Teatro
Uma Possibilidade de Reinvenção da Vida
Por Andreia Duarte
Era o ano de 2001 e até hoje consigo sentir a força que impulsionou a minha ida para a aldeia Kamayura. Um povo indígena falante da língua Kamayura do tronco linguístico Tupi, habitante no Parque Indígena do Xingu que é uma terra indígena e ambiental localizada no centro-oeste brasileiro no estado de Mato Grosso. Lembro da viagem que fiz sozinha, aos 21 anos, saindo da minha cidade natal Belo Horizonte que fica no estado de Minas Gerais para encontrar o cacique Kotok Kamayura no pequeno município de Canarana, também em Mato Grosso. De lá fomos de avião para o Xingu assistindo as transições na paisagem: a vista da cidade ficando pequena, a entrada dos imensos descampados delimitados de plantações e pecuária, os limites da reserva indígena e a vastidão da sua floresta, rio e cerrado. A aldeia, que tantas vezes observei por cima, no momento em que o avião começa descer até tocar as suas rodas na pista de pouso improvisada. O dia era 5 de janeiro e a lembrança do meu corpo parado em frente à lagoa Ipavu – olhando a limpidez daquela água totalmente margeada por palmeira de buriti e extensa floresta – rememora aquele momento tão decisivo. Transbordando pela experiência de estar naquele território, recordo que falei para mim mesma: “eu quero morar aqui”.
Vinte anos depois, tenho maior clareza sobre a paixão que me levou a ficar cinco anos com aquele povo e que me faz continuar uma relação de amizade até os dias de hoje. Aquele era um momento em que as primeiras experimentações como atriz traziam um deslocamento sobre a noção de corpo e da realidade que eu havia vivido. O exercício artístico misturado com o desejo de conhecer o povo originário fizeram surgir o questionamento de como seria estudar o corpo indígena para o teatro. Com esse desejo inicial, fui me integrando às atividades da minha nova família, no trabalho da roça, do ritual, ouvindo as narrativas, também na construção educacional da Escola Mawaiaka, na publicação do livro História Kamayura e de várias ações de militância por meio da Associação Indígena Mawutsinin que é a representante jurídica da comunidade. Claro, que a minha permanência na aldeia só foi possível porque os Kamayura aceitaram essa parceria, o que permitiu a construção de uma afinidade em um aprendizado que qualquer relação prolongada oportuniza.

Kamayura female tattoo marked on the body of actress Andreia Duarte. Scanner made for the São Paulo International Theater Festival Catalogue – MITsp 2019. / Tatuagem feminina Kamayura marcada no corpo da atriz Andreia Duarte. Scanner feito para o Catálogo da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo – MITsp 2019.
Quando eu saio da aldeia, carrego comigo essa experiência incomparável, que ainda hoje reverbera em meu corpo e por isso acabo criando outras maneiras de torná-la ininterrupta. É assim que venho realizando diversas ações no campo artístico, como tenho me tornado parceira e amiga de outros povos e líderes indígenas. Vale dizer que morar na aldeia foi fundamental; mas escutar, dialogar e estudar durante um tempo dilatado, me ajudou a entender o contexto social que uma comunidade como a Kamayura enfrenta. O que transformou profundamente a percepção que trago sobre o corpo, arte, história, política, ética, alteridade, produção de conhecimento e formas de existir.

Andreia Duarte in the performance Gavião de Duas Cabeças (Two-Headed Hawk). Presentation at Sesc Pompéia. São Paulo, 2018. Photo by Carola Monteiro / Andreia Duarte no espetáculo Gavião de Duas Cabeças. Apresentação no Sesc Pompéia. São Paulo, 2018. Foto por Carola Monteiro
No campo das artes cênicas, nunca deixei de perseguir a ideia sobre como relacionar o corpo indígena e o teatro. Porém, havia noções que tornaram cruciais para o desenvolvimento da investigação prática e teórica. A primeira é a ciência de uma supressão que se dá na desvalorização e invisibilidade social do povo originário na formação da sociedade brasileira. Um processo que tenta falsear a violência, a injustiça e o genocídio gerado sobre os habitantes originários do início da colonização até os dias de hoje. Outro ponto a destacar é o entendimento que aquele corpo-conhecimento está vinculado em uma conjuntura de sentidos que o distingue de qualquer outro corpo. Os Kamayura, como povo originário, vivem e revivem à sua maneira a própria ancestralidade. Uma memória corporal longínqua como as profundezas do mar e contínua como o infinito do universo, visto que se atualiza nas demandas do agora. Como elucida a professora Leda Martins (Performances do tempo espiralar. 2002): nas “espirais do tempo tudo vai e tudo volta”.
Por último, precisei entender qual era o tipo de linguagem do teatro que eu me encaixava e poderia exercer a pesquisa. Passei anos indagando sobre essas questões e tentando decifrar, incialmente, como criar procedimentos de atuação sobre a vida indígena, em especial sobre o conhecimento do corpo Kamayura nos seus modos de fazer e existir. Como também perguntei o que seria melhor enfatizar em um espetáculo diante da complexidade social e cultural que envolve a existência indígena.
Praticando o exercício teatral que me descobri inserida em uma pesquisa cênica em que as possibilidades expressivas do corpo constituíam o princípio de criação. Então, procurei na qualidade rítmica, da velocidade e na intenção da ação, uma sistematização do movimento corporal. Fiz essa prática como exercício de atriz separado de um projeto de encenação e, também, dentro do espetáculo Ode Marítima, inspirado na poesia de
Fernando Pessoa e dirigido por Juliana Pautilla. A cena em que atuei trazia uma dramaturgia sobre a violência da colonização no (des)encontro entre o europeu e o indígena.
No período foi valioso entender que a representação mimética, num entendimento simples da imitação do movimento, arriscava um esvaziamento sobre a gestualidade cultural independente do conteúdo. Ao mesmo tempo que percebi que a experiência afetiva de uma pessoalidade envolvida com o contexto indígena, tal como foi o meu caso, poderia em uma cena teatral singularizar a forma expressiva preenchendo cada gesto de sentido.

Andreia Duarte in the final scene of the Gavião de Duas Cabeças (Two-Headed Hawk). Presentation at SP Theater School. São Paulo, 2018. Photo by Camila Vech / Andreia Duarte na cena final do espetáculo Gavião de Duas Cabeças. Apresentação na Sp Escola de Teatro. São Paulo, 2017. Foto por Camila Vech.
Na sequencia da investigação, realizei o solo Gavião de Duas Cabeças dando continuidade na parceira com Juliana Pautilla na direção. Fizemos a escolha de realizar uma dramaturgia (e não estou falando somente do texto, mas do sentido emanado por todo o espetáculo) a partir da referência autobiográfica, buscando na memória pessoal um material cravado na pele.
Nessa realização cênica optamos por enfatizar as políticas do corpo-eu-branca na aldeia e fora dela, interrogando os preconceitos gerados por essa escolha. Também tratamos das questões que emergem no encontro entre alteridades, questionando as próprias ações como colonialista. Ainda, escolhemos mostrar os diferentes sentidos que envolvem o conflito da terra no Brasil, considerando que para os povos indígenas a territorialidade é um espaço sagrado que liga o coletivo à sua identidade. Um entendimento completamente diverso em relação ao usufruto individualista e capitalista da terra. A disputa entre essas noções é central na vida indígena no Brasil e revela diferentes mecanismos exploratórios utilizados sobre o povo originário.
Todos os discursos trabalhados no espetáculo são reais e buscavam validar a discussão em uma militância: a própria fala, a oralidade indígena e o argumento de representantes da bancada agropecuária do Congresso Nacional. Em várias oportunidades houve trocas com representantes de diferentes povos: o cacique Kotok Kamayura ajudou a traduzir a fala indígena da dramaturgia para a língua Kamayura e fizemos apresentações com a presença no público de diferentes etnias. Um ponto alto foi quando apresentamos para mais de 4000 indígenas no pequeno palco do Acampamento Terra Livre de 2017 (maior encontro do movimento indígena no Brasil realizado no gramado em frente ao Congresso Nacional, na capital Brasília).
Ainda, tivemos na plateia convidados Kamayura no ano de 2018, na cidade de São Paulo. E também, líderes centrais da militância indígena e da preservação da floresta nacional, como Ailton Krenak e Davi Kopenawa. Krenak é considerado um dos intelectuais indígenas mais importantes do Brasil e ativista emblemático na inclusão dos Direitos Indígenas na Constituição Nacional de 1988. E Davi Kopenawa ganhador do Prêmio Right Livelihood 2019, é um dos responsáveis pela demarcação da Terra Indígena Yanomami nos estados do Amazonas e Roraima.
Tenho conhecimento de uma contínua discussão implicada em como algumas abordagens pedagógica-artística-branca-colonial apropriam-se de aspectos de outras culturas para inserirem em seus projetos. Penso que uma prática ética poderia ser aquela de tentar entender que diferentes vidas carregam lógicas que não são apenas duais, mas profundamente singulares. Qual o tipo de envolvimento e troca está estabelecido em cada situação?
A tarefa de realizar uma pesquisa que atravessa a questão indígena e o teatro tem sido para mim uma rara oportunidade de exercer um ativismo que reconhece o povo originário na essencialidade da sua existência. Assim como é uma forma de refletir profundamente sobre minha prática, que é a minha própria vida. Atualmente, tenho o interesse em perguntar: como podemos reinventar as possibilidades de existir a partir de uma experiência ampla, artística, social, cultural, transcultural, humana, não humana, natural, anticolonial e ao lado do povo indígena? No meu corpo, penso que a tatuagem Kamayura marcada em meu braço tornou-se como a imagem-híbrida da cena final do espetáculo Gavião de Duas Cabeças: o corpo rasura de uma mulher-pássaro-branca- indígena.
Mediando uma palestra do xamã Yanomami, Davi Kopenawa na SP Escola de Teatro, em São Paulo, perguntei como ele percebia o não indígena realizando um espetáculo sobre o mundo indígena. Davi deu a seguinte resposta: “acho que quando vocês que não são índios falam sobre a questão dos índios, vocês fazem com que as pessoas olhem para mim. Enxerguem quem eu sou. Nós não somos diferentes não, somos a mesma pessoa, branco, negro, índio, tudo igual. A verdade é que estamos lutando pela mesma coisa. Pela nossa vida, nós. É isso que é importante.” O diálogo com Kopenawa trouxe para a pesquisa um desvio que passou a interrogar qual o lugar que nós, indígenas e não indígenas podemos estar juntos? Ou melhor: o que seria um comum?
Abrindo essa janela em uma aliança com o líder Ailton Krenak, em 2018, fizemos a criação e curadoria do TePI – Teatro e os povos indígenas, como uma mostra artística que busca a expansão das formas teatrais em uma valorização do corpo pela produção estética e política. Mas também como espaço que reconhece o protagonismo de artistas indígenas, ao mesmo tempo em que sugere encontros e espetáculos que unam indígenas e não indígenas. Ainda nesse ano, convidei Krenak e Kopenawa para criarem ao meu lado e em co-autoria um experimento cênico chamado O Silêncio do Mundo, no Festival Porto Alegre Em Cena, no Rio Grande do Sul, em 2019. Infelizmente, Davi não pode ir, pois como seu sogro faleceu teve de submeter-se a um longo período de luto e reclusão. Então, Krenak e eu embrenhamos em uma imersão criativa pela qual construímos um resultado cênico no formato de uma palestra-performance que apresentamos no Theatro São Pedro para um público de 700 pessoas.
Em relação à dramaturgia levantada, trabalhamos sobre o tempo do mito como um espaço que inaugura a possibilidade de criação. A discussão passou sobre o universo mitológico que muitas vezes é entendido apenas como o imaginário cultural do povo originário e não como memória e história. Mas, como Krenak responde na entrevista Apotência do sujeito coletivo no ano 2018, não importa saber se a história denominada de mitologia é real ou não; o interessante é perceber que aquele tempo é um lugar onde não há a angústia da certeza. E se não há uma garantia, o que passa a existir é a oportunidade. Ou seja, uma forma de estar ativo, iluminando novas frestas em um processo contínuo de reinvenção da vida em diferentes direções. Para Krenak, seria essa uma janela para atravessar e sair no mundo, experimentar e realizar.
A ação cênica ao lado de Ailton Krenak reforçou a necessidade de cunharmos espaços nos quais possamos falar e vivenciar juntos. Da mesma forma que reafirmou a importância da arte como exercício de criação, onde também não é fundante se estamos lidando com realidade ou ficção. Como no tempo da incerteza que Krenak elucida, o que tenho interessado é encontrar na prática artística uma transmutação sobre as noções da vida, reelaborando o sentido, as imagens e o tempo. Especialmente no caso do teatro que tem o corpo como lugar privilegiado de experimentação, vejo uma porta se abrir em um atravessamento de si, na construção de um acontecimento coletivo e em um processo de transformação.
Claro a existência indígena e o teatro ocupam espaços diferentes. Mas o que toda essa investigação tem me mostrado é que nesse cruzamento existe uma possibilidade de reinvenção da vida. Mesmo porque no encontro entre o teatro e o povo originário há uma valorização do corpo como espaço de aprendizado por meio da experiência; em uma ativação de forças que interage subjetivamente e externamente no agora. Além disso, ao prestar atenção na oralidade de líderes originários, observar a fruição da arte indígena contemporânea e de uma realização teatral que idealiza novos modos de existir, vejo uma conjuntura questionando a supremacia capitalista colonial. O que me faz refletir que outra questão que os une é o desejo de nos libertar do rapto feito pela epistemologia do saque (como Krenak denomina a colonização), que insiste em um modelo essencialista dominador e numa era denominada como a do paradigma antropocêntrico onde o homem é o centro de tudo.
Aprendi com o corpo indígena e o corpo no teatro a acreditar em lugares onde tudo pode vir a ser. Uma prática anticolonial poderia ser essa de saber que o passado, o presente e o futuro estão totalmente conectados e, por isso, podem nos ajudar a transmudar e impulsionar a nossa existência para o lugar que queremos.
É essa noção de tempo expandido dos povos originários que os conectam com tudo o que é vivo (sejam humanos ou não humanos) e os inserem em uma dimensão coletiva onde dançam e cantam para a reciprocidade rítmica com o planeta. Como artista, fico imaginando os corpos não indígenas alinhando-se com o conhecimento ancestral indígena para reestabelecer uma conexão: fazendo juntos porque escolhemos fazer, entrando no ritmo da terra com seus próprios rituais e ressoando suas criações no mundo como o som no ar.

Pajé-Onça, by artist Denilson Baniwa. Hacking the 33rd Bienal de Artes de São Paulo, 2018, performance, HD video, 16:9, color, sound, 15`. The figure of Pajé-Onça takes information to the village, performs hunts in the cities, such as São Paulo, questions the absence of indigenous art in exhibitions and artistic meetings. As, in the exercise of the Yawarete (onça Baniwa) shows that all territory in the world is indigenous land. / Andreia Duarte na cena final do espetáculo Gavião de Duas Cabeças. Apresentação na Sp Escola de Teatro. São Paulo, 2017. Foto por Camila Vech
Spring/Summer 2020, Volume XIX, Number 3
Andreia Duarte is an actress, director, teacher and curator in artistic productions. She is a Ph.D. student at USP/ECA, who has conducted research on the intersection between theater and indigenous peoples from an anti-colonial perspective for 20 years. Email: andreiaduartemg@gmail.com
Andreia Duarte é atriz, diretora, professora e curadora em produções artísticas. Doutoranda pela USP/ECA, pesquisa há 20 anos o cruzamento entre teatro e os povos indígenas em uma perspectiva anticolonial. Email: andreiaduartemg@gmail.com
Related Articles
Amazon: Editor’s Letter
The Amazon is burning. The trees that have not been cut down are on fire. The crisis is now. When I began to work on this issue on the Amazon, that was pretty much my vision, and it was a real one. I was determined to make the magazine on the Amazon about…
How Democracies Die
How Democracies Die analyzes the main dangers that modern democracies face. As the authors warn, 21st-century democracies do not die in one fell swoop, in a violent way, by hands that do not always belong to the political system. On the contrary, modern democracies…
The Return of Collective Intelligence
My college Native American Culture professor, the Mescalero Apache scholar Inez Sánchez, told our class that we should regard the word “primitive” as synonymous with “complex.” I gained a better understanding of what Sánchez meant reading The Return of Collective…