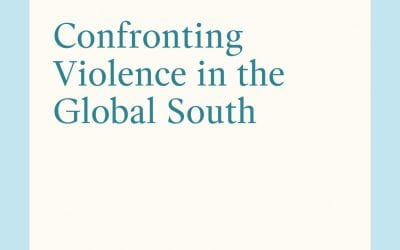Animals and Writing
Unveiled Unconscious
Every family has its myths and thus its little boxes. For example, in my family, each child had their own kingdom: I was the book girl, my sister the animal lover, my brother the sportsman. And we were so obedient to mythology that, when we grew up, I continued to be surrounded by more and more books, my sister became a veterinarian, and my brother went on to play tennis for a university to go to college. In fact, come to think of it, each of us to this day sustains our lives with the thing that is our passion (or our addiction).
In my case, the many books that pile up around the house certainly are an addiction. And so terrible that perhaps they—along with family mythology—have gotten me addicted to words and gotten in the way of other forms of communication with beings. When did I discover this? Now.
I will tell this story.
As I mentioned, the animal lover in my childhood home was my sister. She always had dogs, hamsters, fish and all the non-human language kingdom. After she grew older, she became an expert on large mammals (like cows) and fish as well.
I was interested in “humans,” the word that almost always means that what you know about humans comes from the words that have been written about them. How then was I going to connect with animals? It could only be through the experience of other people who were also from the realm of words and knew how to communicate that experience.
And so I went to some writers for help in writing this text—and, as you will see, I stole a bit and came up with an actress who is above all an artist (someone who uses an art form to bring a new way of looking at something).
The first one who gave me a hand on this journey was Brazilian novelist Clarice Lispector. There are many animals in her work and many texts about the relationship between humans and animals.
Do you have a nose? I’ll bet you do, because besides being people, we are also animals. Man is the most important animal in the world, because besides feeling, man thinks, solves, and speaks. Animals speak without words.
This is perhaps the synthesis of her thinking, not only about our relationship with animals, but also about our place in the world. In The Woman Who Killed the Fish, she describes, as a kind of diary, her relationship with animals. All animals, the ones she has had and the ones she has observed.
One woman I talked to said that Lispector’s book changed her life when she was nine years old. It was the first time she felt she was not being treated “like a child.” Lispector had this ability to know how to talk to anyone, of any age. And to treat children as what they are: not “children” in a lessor sense, but beings in the making, who are in the phase of freely receiving all that the world can give them. The real world, translated into real language and that, although it may seem imaginative, is in fact the most objective. For it translates our way of seeing and feeling everything.
Going back. In this book, she tells about dogs and about different ways of loving.
One day, walking through the streets of the city, I saw a mutt. The mutts are so intelligent that the one I saw sensed right away that I was good to animals and was in the same minute excited and wagging its tail. As for me, it was only by looking that I soon fell in love with his face.
Love with dogs is almost always reciprocal without much conflict. Maybe because there is no verbal language for people to express themselves too much and thus get in the way. And since it is a light, reciprocated love, it protects us from loneliness:
“Dilermando was almost as intelligent as a two-year-old child. He lived behind me so he wouldn’t feel lonely.”
Other times dogs protect too, but in another, more concrete way: they work as alert sentinels and owners of a certain territory. So it was with Jack:
I don’t remember what breed he was because I don’t see any differences, I like all human and animal breeds. Jack was one of those dogs that barked all the time and watched the house so that burglars don’t get in. Jack only did a few things in his disciplined life: he barked, ate, mated a lot, watched the house, slept, and played with us. He had a very lively life because he enjoyed everything he did. Just like me, because I do several things in life and I like what I do.
As in many relationships, the bond of love unfolds in a process of identification: “just like me,” he and I do what we like. In fact, it’s a privilege, to be able to follow one’s own desires.
In Almost Truly, another children’s book, Lispector reverses the narrative voices and changes up the usual positions on the human-animal scale. It is her last companion, Ulysses, who narrates the story, “I’m a little naughty, I don’t always obey, I like to do what I want, I pee in Clarice’s room.”
Throughout the book, it is the dog—the narrator subject—that shows his life with Lispector, the narrated object. The narrator shows how he speaks and stays quiet, walks, sits and exerts himself in that house. The beginning already shows this dance of voices in the indistinct web of species, in a language of simultaneous translation: “I keep barking at Clarice and she writes what I tell her. In fact, it is almost the same language that is spoken from one being to another, in the radicalization of the transfer of subjectivities.
Continuing the tour through Lispector’s work, we see that this horizontal human-animal communication is always there. And as much in language as in affections.
In the short story “The Buffalo,” the narrator comes face to face with another large, strong, and voracious mammal. Such a clash that she allows herself to live down to the depths of the hatred that pierced her viscera. She, a woman once subjected and dominated, now encounters the other and allows herself to be an active subject, one who hates and kills.
The woman stunned in surprise, slowly shaking her head. The buffalo calm. Slowly the woman shook her head, amazed at the hatred with which the buffalo, quiet with hatred, looked at her. Almost innocent, shaking an incredulous head, its mouth ajar. Innocent, curious, going deeper and deeper into those eyes that unhurriedly stared at her, naive, in a sleepy sigh, neither wanting nor able to escape, trapped in the mutual murder. Trapped as if her hand was stuck forever to the dagger she had craved herself.
In The Passion According to G.H., we have another way of being confused with the other animal, this time by introjecting it completely. In this case, devouring a cockroach in the anthropophagic gesture possible for the mistress who infiltrates the maid’s territory. Beyond the expected encounter with the human, there is the radical otherness of the incommunicable animal. Beyond the animal kingdom that can be communicated, we enter the realm of the Kafkaesque insect, the cockroach that G.H. will devour on her Via Crucis.
Sometimes the encounter with animal otherness is enigmatic and beyond the flow of language or affection or embodiment. What takes place is pure mystery, questioning between philosophical and existential, as in “The Egg and the Hen.”. Lispector herself said that she did not “understand” what she had written in that short story.
Here we are already at the threshold of the living being, animal and seed, chicken and egg, potency of life and enigma of origin.
The egg is something suspended. It never lands. When it lands, it is not what landed. It was something that stayed under the egg. – I look at the egg in the kitchen with superficial attention so as not to break it. I am very careful not to understand it. Since it is impossible to understand it, I know that if I do, it is because I am making a mistake. Understanding is the proof of error. To understand it is not the way to see it.—Never thinking about the egg is a way of having seen it.
And not understanding is the matrix of her writing. This is what is behind the letters and her writing seeks to write itself endlessly, as it took me an entire doctorate to meditate.
Back to the woman who killed the fish…
That woman who killed the fish is unfortunately me. But I swear to you that I didn’t mean to. Me, of all people! I don’t have the courage to kill a living thing!
This is how the author begins the book. And throughout it she provides testimonies of her many relationships with animals, as a lawyer in her own defense, to end up asking for forgiveness for her crime. What is the main argument? The lack of language. The time when not a word was said between Lispector and the animals was the only time she killed them:
They must have starved, just like people. But we talk and complain, the dog barks, the cat meows, all animals speak with sounds. But fish are as mute as a tree and had no voice to complain and call me. And when I went to look, they were still, skinny, reddish – and sadly already dead from hunger.
And back to my own story. As I took this long walk through the many Claricean animals, I realized that the little joke that was told in my house might not make that much sense. My siblings always said that I never wanted to play with the animals in the backyard. And that I always preferred to be with the books. To which I would reply: I prefer animals that talk.
I began to realize that my childhood mythology that divided the world of books and the world of animals was not quite right. And that maybe things are more complex than two kinds of beings, with two kinds of language.
How naive I was, really. These are just the little boxes of words and consciousness that try to imprison what is real.
Then I remembered to also return to a text that had impressed me in the time when, I don’t know how, I had two cats.
Actually, I know how. My friend gave a kitten to my son, also a baby.  The way my baby son called the cat was very beautiful for a psychoanalytical mother, almost like the Freudian game of Fort-Da, a process of elaborating the mother-child separation. He was one year old and just beginning to learn the language of words. The kitten, poor thing, days-old and frightened, hid under the sofa. My baby: donnn. That was “over,” “done.” When the other is outside the scope of my gaze, it is over. Have you ever thought how anguishing this is? When the mother leaves?
The way my baby son called the cat was very beautiful for a psychoanalytical mother, almost like the Freudian game of Fort-Da, a process of elaborating the mother-child separation. He was one year old and just beginning to learn the language of words. The kitten, poor thing, days-old and frightened, hid under the sofa. My baby: donnn. That was “over,” “done.” When the other is outside the scope of my gaze, it is over. Have you ever thought how anguishing this is? When the mother leaves?
Well. Then the cat would come out and my son, human, in ecstasy, would laugh. Then the cat would disappear again: donnn! And this happened so many times, just like Freud’s grandson with his reel and practically the same words to elaborate the separation anxiety, that the cat’s name became Don.
The second cat came to the house a few months after this one. I think they can smell each other the same, the interspecies connection. The mother cat went to breed on the roof and one fine day another kitten fell into my garden, so small next to the other that its name could only be this: Baby. I mean, that is what I imagine my son thought when he started calling our new kitten Baby.
And that’s how I had two cats, Don and Baby. And so I went on to read The Cat Inside, by William Burroughs. I was very impressed by that book. Then and again now, as I reread it to write this text. I seem to understand perfectly (always a mistake to think that, I know, but it is true) what he is saying. Things like:
Wimpy gives me images of my son, Billy, and my poor father. It’s ten o’clock at the Price Road House. I go to the pantry for milk and cookies and hope my father is not there. Frustration makes me moody and impertinent. “Gay” was not a usual word in those days. He is there. – Hi, Bill. The pathetic plea and the eye pain. – Hi. Nothing, just cold hatred. If only… too late. It’s all over. Only the rock garden remains. Another flashback: about two months before I leave the Stone House. I am sitting in the armchair by the fireplace with the white cat on my lap. I feel a sudden twinge of hatred and resentment. I am not so sure about moving into a house. There is no money! More likely a small apartment. Sandboxes… intolerable! I can smell you from here. I wonder if the white cat disappeared in a burst of resentment. People and animals can leave in spirit before they leave bodily.
Or, beyond the personal story of his life plot, with the character Bill, his father and his cat, Burroughs brings us nothing less than a treatise on the cat-human relationship. He also gives a general postulate, perhaps one of the most classic formulations of his—and of all—literature that delved into this topic:
I postulate that cats began as psychic companions, as family members, and have never moved away from that role. Dogs began as sentinels. On farms and in villages, it is still their primary job to announce anything approaching. They are hunters and watchdogs, and that is why they hate cats. – Take a look at the services we provide! And meanwhile, all cats do is gloat and purr. Mouse-hunters, eh? A cat needs half an hour to kill a mouse. All cats do is purr and divert the master’s attention away from my honest shit-eating grin. The worst thing is that they have no notion of right and wrong. Cats do not offer services. They offer themselves. Of course they want affection and shelter. Love is not free. Like all pure creatures, cats are pragmatic.
Clarice, my son, Don, Baby and Bill have taught me this. We have psychic companions: all those, beyond or beyond speech, with whom we can experience an encounter. An emotion, affection, letting oneself be affected and be with.
Some might call this drive, a primordial impulse, a libidinal connection. Perhaps one of the most concrete metaphors for encounter is sexuality.
And so I’ll end with something new that I discovered recently, and that also influenced me on this long path of searching for my animal viscerality. It was the series Green Porno, by the brilliant Isabella Rossellini. She wrote the script, directed and acted in this series of audiovisual animations. Yes, I know I went off script from what I set out to do in this text but let’s take this as just the icing on the cake to close.
We were fascinated watching the episodes, me and my friend who showed me this series (yes, we need friends to open our horizons of encounter). It shows the sex life of animals, with their courtship rituals, mating, pregnancy and upbringing.
Gods in heaven, how animal we all are. What is life after all? I am even afraid of thinking too much and ending up identifying myself with the praying mantis, the snail or the fly. Our species Sapiens is not just 150,000 years old. It carries within it the struggle for life, which is already celebrating an anniversary of millions of years.
So, returning, after so many years, to Lispector’s animals, to Burroughs’ cats or to the sexuality of us all, I discovered that I didn’t need to be unrelated to animals to be able to dive into the realm of words. And I understood, again, how old and complicated and mysterious life is, and how strange the categories are. Humans vs. animals; night vs. day; animals vs. letters; men vs. women; Blacks vs. whites, words vs. silence.
We are all living, subjective beings, each in our own way.
Now is the time to open all Pandora’s boxes and let our unconscious connect more freely.
Animal e Escrita
Inconsciente desvelado
Por Maria Homem
Toda família tem seus mitos e, assim, suas caixinhas. Por exemplo, na minha, cada filho tinha seu próprio reino: eu era a menina dos livros; minha irmã, a amante dos animais; meu irmão, o esportista. E éramos tão obedientes à mitologia que, quando crescemos, eu continuei rodeada por cada vez mais livros, minha irmã virou veterinária e meu irmão foi jogar pela faculdade. Na verdade, pensando bem, cada um de nós até hoje sustenta sua vida com aquilo que é sua paixão (ou seu vício).
No meu caso, os montes de livros que se empilham pela casa certamente são um vício. E tão terrível que talvez tenham sido eles—junto com a mitologia familiar—que me viciaram nas palavras e atrapalharam as outras formas de comunicação com os seres. Quando descobri isso? Agora.
Vou contar essa história.
Como falei, a apaixonada pelos animais na minha casa era minha irmã. Ela sempre teve cachorros, hamsters, peixes e todo o reino não-verbal. Quando cresceu, ela se especializou também em grandes mamíferos (como vacas) e peixes.
Eu era de ‘humanas’, aquela palavra que quase sempre significa que o que se sabe do humano vem pelas palavras que se escreveram sobre ele. Como então eu ia me conectar com os animais? Só podia ser pela experiência de outras pessoas que também fossem do reino das palavras e soubessem comunicar essa vivência.
E assim eu fui pedir ajuda a alguns escritores para fazer este texto – e, como vocês vão ver, trapaceei um pouquinho e cheguei em uma atriz que é acima de tudo uma artista (alguém que use alguma forma de arte para trazer uma nova forma de olhar para algo).
A primeira que me deu a mão nesse percurso foi Clarice Lispector. Há muitos animais na obra dela e muitos textos sobre a relação entre animais e humanos.
Vocês têm faro? Aposto que sim, porque além de sermos gente, somos também animais. O homem é o animal mais importante do mundo, porque, além de sentir, o homem pensa, resolve e fala. Os bichos falam sem palavras.
Esta talvez seja a síntese do pensamento dela não somente sobre nossa relação com os animais mas também nosso lugar no mundo. No livro A mulher que matou os peixes, ela conta, como uma espécie de diário, sobre a sua relação com os animais. Todos os animais, os que ela já teve e os que ela observou.
Uma mulher com quem conversei me disse que esse é um livro que mudou a sua vida quando tinha nove anos. Foi a primeira vez em que ela não se sentiu tratada “como criança”. Lispector tinha essa habilidade de saber falar com qualquer pessoa, de qualquer idade. E de tratar as crianças como o que elas são: não “crianças” num sentido inferior, mas seres em formação, que estão na fase de receber livremente tudo o que o mundo os pode dar. O mundo real, traduzido em linguagem real que, embora possa parecer imaginativa, é na verdade a mais objetiva. Pois traduz o nosso jeito de ver e sentir tudo.
Voltando. Nesse livro ela conta sobre os cachorros e sobre diferentes formas de amar.
Um dia, andando pelas ruas da cidade, vi um cachorro vira-lata. Os vira-latas são tão inteligentes que aquele que eu vi sentiu logo que eu era boa para os animais e ficou no mesmo minuto alvoroçado abanando o rabo. Quanto a mim, foi só olhar que logo me apaixonei pela cara dele.
O amor pelos cachorros quase sempre é recíproco e sem grandes conflitos. Vai ver porque não tem linguagem verbal para gente querer se expressar demais da conta e assim se atrapalhar. E como é um amor correspondido e leve, protege a gente da solidão:
Dilermando era quase tão inteligente como uma criança de dois anos. Vivia atrás de mim para não se sentir sozinho.
Outras vezes os cachorros protegem também, mas de outro jeito, mais concreto: eles funcionam como sentinelas alertas e donas de um determinado território. Assim foi com Jack:
Não lembro de que raça ele era porque não faço diferenças, eu gosto de todas as raças humanas e de animais. Jack era daqueles cachorrões que latem o tempo todo e vigiam a casa para não deixar entrar ladrão. Jack só fazia algumas coisas na vida disciplinada dele: latia, comia, namorava muito, vigiava a casa, dormia, brincava com a gente. Ele tinha uma vida muito animada porque ele gostava de tudo o que fazia. Igual a mim, porque faço várias coisas na vida e gosto do que faço.
Como em muitas relações, o elo de amor se desdobra em um processo de identificação: “igual a mim”, eu e ele fazemos o que gostamos. Aliás, um privilégio, poder seguir os próprios desejos.
Em Quase de verdade, um outro livro infantil, Lispector faz uma inversão das vozes narrativas e bagunça as posições usuais na escala humanos-animais. É seu último companheiro, Ulisses, quem narra a história: “Sou um pouco malcriado, não obedeço sempre, gosto de fazer o que eu quero, faço xixi na sala de Clarice.”
Ao longo do livro, é o cachorro—sujeito narrador—que vai mostrando a sua vida com Lispector, o objeto narrado. O narrador mostra como ele fala e cala, anda, senta e se exerce naquela casa. O início já mostra essa dança das vozes na teia indistinta das espécies, numa linguagem de tradução simultânea: “Eu fico latindo para Clarice e ela escreve o que eu lhe conto”. Aliás, é quase uma mesma linguagem que se passa de um ser a outro, na radicalização do trânsito das subjetividades.
Continuando o passeio pela obra de Lispector, vemos que essa comunicação horizontal entre humanos e animais está desde sempre presente. E tanto na linguagem quanto nos afetos.
No conto “O búfalo”, a narradora fica face a face com um outro mamífero, grande, forte e voraz. Um embate tal que ela se permite viver até o fundo do desrecalque o ódio que trespassava suas vísceras. Ela, mulher antes submetida e dominada, agora encontra o outro e se permite ser sujeito ativo, que odeia e mata.
A mulher tonteou surpreendida, lentamente meneava a cabeça. O búfalo calmo. Lentamente a mulher meneava a cabeça, espantada com o ódio com que o búfalo, tranquilo de ódio, a olhava. Quase inocentada, meneando uma cabeça incrédula, a boca entreaberta. Inocente, curiosa, entrando cada vez mais fundo dentro daqueles olhos que sem pressa a fitavam, ingênua, num suspiro de sono, sem querer nem poder fugir, presa ao mútuo assassinato. Presa como se sua mão se tivesse grudado para sempre ao punhal que ela mesma cravara.
Em A paixão segundo G.H., temos outra forma de se confundir com o outro animal, dessa vez introjetando-o totalmente. No caso, devorando uma barata no gesto antropófago possível para a patroa que penetra o território da empregada. Aquém do encontro esperado com o humano, a alteridade radical do animal incomunicável. Para além do reino animal passível de comunicação, entra-se no âmbito do inseto kafkiano, a barata que G.H. vai devorar em sua via sacra.
Por vezes o encontro com a alteridade animal é enigmático e para aquém do fluxo de linguagem ou de afeto ou de incorporação. O que vem é puro mistério, interrogação entre filosófica e existencial, como em “O ovo e a galinha”. A própria Lispector dizia que não ‘entendia’ o que tinha escrito nesse conto.
Aqui já estamos no limiar do ser vivo, animal e semente, galinha e ovo, potência de vida e enigma de origem.
O ovo é uma coisa suspensa. Nunca pousou. Quando pousa, não foi ele quem pousou. Foi uma coisa que ficou embaixo do ovo. – Olho o ovo na cozinha com atenção superficial para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, sei que se eu o entender é porque estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é o modo de vê-lo. – Jamais pensar no ovo é um modo de tê-lo visto.
E o não entender é matriz da sua escrita. É isso que corre sob a letra e busca se escrever sem cessar, como precisei de um doutorado inteiro para meditar.
Voltando à mulher que matou os peixes.
Essa mulher que matou os peixes infelizmente sou eu. Mas juro a vocês que foi sem querer. Logo eu! Que não tenho coragem de matar uma coisa viva!
Assim a autora inicia o livro. E ao longo dele traz testemunhos de suas muitas relações com os bichos, como advogada em sua própria defesa, para terminar pedindo perdão pelo seu crime. Qual o principal argumento? A falta da linguagem. A vez em que não se fez palavra entre Lispector e os animais foi a única em que ela os matou:
Devem ter passado fome, igual gente. Mas nós falamos e reclamamos, o cachorro late, o gato mia, todos os animais falam por sons. Mas peixe é tão mudo como uma árvore e não tinha voz para reclamar e me chamar. E, quando fui ver, estavam parados, magros, vermelhinhos – e infelizmente já mortos de fome.
E voltando para a minha própria história. Ao dar essa longa volta pelos muitos animais clariceanos, percebi que a piadinha que se contava na minha casa talvez não fizesse tanto sentido assim. Os meus irmãos sempre diziam que eu nunca queria brincar com os bichos no quintal. E que sempre preferia ficar com os livros. Ao que eu respondia: prefiro os animais que falam.
Comecei a perceber que minha mitologia infantil que dividia o mundo dos livros e o mundo dos animais não estava muito certa. E que talvez as coisas sejam mais complexas que dois tipos de seres, com dois tipos de linguagem.
Como eu era ingênua, realmente. Essas são somente as caixinhas das palavras e da consciência que tentam aprisionar o real.
Aí lembrei de voltar também para um texto que tinha me impressionado no tempo em que, nem sei como, eu tive dois gatos.
Na verdade eu sei como. Meu amigo deu um gato bebê pro meu filho também bebê.  O jeito que meu filho bebê chamou o gato foi muito bonito para uma mãe psicanalista, quase um tratado do Fort-Da freudiano. Ele tinha um ano de vida e começava a aprender a linguagem das palavras. O gatinho, coitado, tinha dias e, assustado, se escondeu embaixo do sofá. Meu bebê: bôooo. Que era “acabou”. Quando o outro está fora do escopo do meu olhar, ele acabou. Já pensou a angústia que é isso? Quando a mãe vai embora?
O jeito que meu filho bebê chamou o gato foi muito bonito para uma mãe psicanalista, quase um tratado do Fort-Da freudiano. Ele tinha um ano de vida e começava a aprender a linguagem das palavras. O gatinho, coitado, tinha dias e, assustado, se escondeu embaixo do sofá. Meu bebê: bôooo. Que era “acabou”. Quando o outro está fora do escopo do meu olhar, ele acabou. Já pensou a angústia que é isso? Quando a mãe vai embora?
Pois bem. Aí o gato reaparecia e meu filhote, humano, em êxtase, gargalhava. O gato sumia de novo: bôooo. E tantas vezes foi isso, tal qual o neto de Freud com seu carretel e as praticamente mesmas palavras para elaborar a angústia de separação, que o nome do gato virou Bô.
O segundo gato apareceu na casa uns poucos meses depois desse. Acho que eles sentem o cheiro do outro igual, conexão interespécie. A mamãe gato foi procriar no telhado e um belo dia me cai no jardim um outro filhote, tão mas tão pequeno perto do outro que seu nome só podia ser assim: Nenê. Quer dizer, isso foi o que eu imagino que meu filho pensou quando começou a chamar nosso novo gatinho de Nenê.
E foi assim que tive dois gatos, Bô e Nenê. E por isso fui ler The Cat Inside, do William Burroughs. Fiquei muito impressionada com esse livro. Naquela época e de novo agora, que reli para fazer este texto aqui. Parece que compreendo perfeitamente (sempre um engano achar isso, eu sei, mas é verdade) o que ele está dizendo. Coisas como:
Wimpy me traz imagens de meu filho, Billy, e de meu pobre pai. São dez horas na casa da Price Road. Vou até a copa para tomar leite com biscoitos e espero que meu pai não esteja lá. A frustração me deixa mal-humorado e impertinente. “Gay” não era uma palavra habitual naqueles dias. Ele está lá. – Oi, Bill. O apelo patético e o sofrimento no olhar. – Oi. Nada, apenas ódio frio. Se apenas… tarde demais. Está tudo acabado. Restam apenas os jardins de pedra. Outro flashback: cerca de dois meses antes de deixar a Casa de Pedra. Estou sentado na poltrona perto da lareira com o gato branco em meu colo. Sinto uma pontada súbita de ódio e ressentimento. Não estou muito certo de mudar-me para uma casa. Não há dinheiro! Mais provavelmente um apartamento pequeno. Caixinhas de areia… intolerável! Posso sentir seu cheiro daqui. Será que o gato branco desapareceu em um rompante de ressentimento? As pessoas e os bichos podem partir em espírito antes de partir corporalmente.”
Ou, para além da história pessoal da sua trama de vida, com a personagem Bill, seu pai e seu gato, Burroughs nos traz nada menos que um tratado sobre a relação gatos-humanos. Ele traz também um postulado geral, talvez uma das mais clássicas formulações de sua -e de toda- literatura que mergulhou nesse tema:
“Eu postulo que os gatos começaram como companheiros psíquicos, como Familiares, e nunca se afastaram dessa função. Os cães começaram como sentinelas. Em fazendas e vilarejos, ainda é sua função principal anunciar qualquer aproximação. São caçadores e vigias, e é por isso que odeiam gatos. – Veja os serviços que prestamos! E, enquanto isso, tudo o que os gatos fazem é se refestelar e ronronar. Caçadores de rato, hein? Um gato precisa de meia hora para matar um camundongo. Tudo o que os gatos fazem é ronronar e desviar a atenção do mestre da minha cara honesta de comedor de merda. O pior é que eles não tem qualquer noção de certo e errado. O gato não oferece serviços. Ele se oferece. Claro que ele quer carinho e abrigo. O amor não é de graça. Como todas as criaturas puras, os gatos são pragmáticos.”
Clarice, meu filho, Bô, Nenê e Bill me ensinaram isso. Temos companheiros psíquicos: todos aqueles, para além ou aquém da fala, com os quais podemos viver um encontro. Uma emoção, um afeto, um se deixar afetar e estar-com.
Alguns podem chamar isso de pulsão, impulso primordial, ligação libidinal. Talvez uma metáfora para encontro, das mais concretas, seja a da sexualidade.
E assim termino com uma coisa nova que descobri esses tempos, e que também me marcou nesse longo caminho de buscar a minha visceralidade de bicho. Foi a série Green Porno, da genial Isabella Rossellini. Ela fez o roteiro, dirigiu e foi atriz desta série de animações audiovisuais. Sim, sei que saí do script a que me propus neste texto mas vamos encarar isso como somente a cereja do bolo para fechar.
Ficamos vendo fascinadas os episódios, eu e minha amiga que me mostrou essa série (sim, precisamos de amigos para nos abrir os horizontes do encontro). Ela mostra a vida sexual dos animais, com seus rituais de corte, acasalamento, gestação e educação.
Deuses do céu, como somos tão animais, todos nós. O que é afinal a vida, além disso? Tenho até medo de pensar demais e acabar por me identificar com o louva-a-deus, o caracol ou a mosca. Nossa espécie Sapiens não tem somente uns 150 mil anos. Carrega em seu interior a luta pela vida, que já está fazendo aniversário de milhões de anos.
Assim, voltando, depois de tantos anos, aos animais de Clarice, aos gatos de Burroughs ou à sexualidade de todos nós, descobri que eu não precisava não ter relação com os animais para poder mergulhar no reino das palavras. E entendi, de novo, o quanto a vida é antiga, complicada e misteriosa e o quanto as categorias são coisas estranhas. Humanos x animais; noite x dia; bichos x letras; homens x mulheres; pretos x brancos, palavra x silêncio.
Somos todos seres vivos e subjetivos, cada um no seu estilo.
Agora é tempo de abrir todas as caixas de Pandora e deixar nossos inconscientes se conectarem mais livremente.
Maria Homem is a psychoanalyst and essayist, with postgraduate degrees from the University of Paris 8 and FFLCH/USP. She was a Harvard DRCLAS Associate and has authored Lupa da Alma and Coisa de Menina?, among others. (mariahomem.com; @maria.homem)
Maria Homem é psicoanalista e escritora, com diplomas de pós-gradução pela Universidade de Paris 8 e FFLCH/USP. Foi uma Associada do DRCLAS em Harvard e autorou Lupa da Alma e Coisa de Menina?, entre outros. (mariahomem.com; @maria.homem)
Related Articles
Editor’s Letter – Animals
Editor's LetterANIMALS! From the rainforests of Brazil to the crowded streets of Mexico City, animals are integral to life in Latin America and the Caribbean. During the height of the Covid-19 pandemic lockdowns, people throughout the region turned to pets for...
Where the Wild Things Aren’t Species Loss and Capitalisms in Latin America Since 1800
Five mass extinction events and several smaller crises have taken place throughout the 600 million years that complex life has existed on earth.
A Review of Memory Art in the Contemporary World: Confronting Violence in the Global South by Andreas Huyssen
I live in a country where the past is part of the present. Not only because films such as “Argentina 1985,” now nominated for an Oscar for best foreign film, recall the trial of the military juntas…